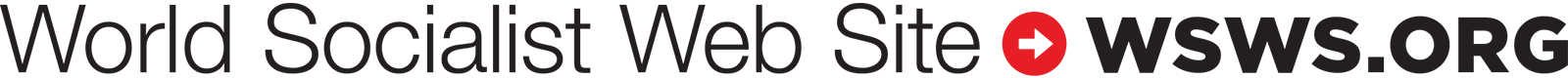Publicado originalmente em 6 de setembro de 2019
“O Projeto 1619”, publicado pelo New York Times em uma edição especial de 100 páginas de sua revista de domingo no dia 19 de agosto, apresenta e interpreta a história dos Estados Unidos completamente através do prisma de raça e do conflito racial. O que motivou essa publicação foram os 400 anos da chegada de 20 escravos africanos no Porto Comfort, na Virgínia, uma colônia britânica na América do Norte. No dia seguinte, os escravos foram trocados por comida.
O Projeto, de acordo com o Times, tem a intenção de “reformular a história do país, entendendo 1619 como a nossa verdadeira fundação, e colocando as consequências da escravidão e as contribuições dos negros estadunidenses no centro da história que contamos para nós mesmos sobre quem somos”.
Apesar de pretender estabelecer a “verdadeira” fundação dos Estados Unidos, o Projeto 1619 é uma falsificação politicamente motivada da história. Seu objetivo é criar uma narrativa histórica que legitima o esforço do Partido Democrata para construir uma coalizão eleitoral baseada na prioridade em “identidades” pessoais – i.e., gênero, orientação sexual, etnia e, acima de tudo, raça.
O Times está promovendo o Projeto através de uma ofensiva publicitária sem precedentes e com um enorme financiamento. O jornal está trabalhando com o Pulitzer Center on Crisis Reporting (Centro Pulitzer para Cobertura de Crises Globais), que desenvolveu uma proposta curricular que será enviada para escolas com o objetivo de os professores utilizarem em suas aulas. Centenas de milhares de cópias extras da revista e um suplemento especial foram impressos para distribuição gratuita em escolas, bibliotecas e museus de todo o país. Nikole Hannah-Jones, da equipe de redação e membro da fundação New America que idealizou o Projeto, supervisionou sua produção e escreveu a introdução, realizará uma série de palestras em escolas de todo o país.
Os artigos da revista estão organizados em torno da premissa central de que toda a história dos EUA tem na sua origem o ódio racial – especificamente, o ódio descontrolado das “pessoas brancas” pelas “pessoas negras”. Hannah-Jones escreve na introdução da série que o “Racismo contra o negro corre no próprio DNA deste país”.
Essa é uma concepção falsa e perigosa. O DNA é uma molécula que contém o código genético dos organismos vivos e determina suas características físicas e seu desenvolvimento. A transposição desse importante termo biológico para o estudo de um país – mesmo no sentido metafórico – leva à má história e à política reacionária. Países não têm DNA, eles têm estruturas econômicas formadas historicamente, classes antagônicas e complexas relações políticas, que não existem separadas de um certo nível de desenvolvimento tecnológico, nem independentes de uma rede mais ou menos desenvolvida de interconexões econômicas globais.
A metodologia que sustenta o Projeto 1619 é idealista (i.e., deriva o ser social a partir do pensamento, ao invés do contrário) e, no sentido mais fundamental da palavra, irracionalista. Toda a história é explicada a partir da existência de um impulso emocional supra-histórico. A escravidão é vista e analisada não como uma forma econômica específica que tem sua origem na exploração do trabalho, mas, pelo contrário, como uma manifestação do racismo branco. Mas, de onde surgiu esse racismo? Ele está impregnado, alega Hannah-Jones, no DNA histórico das “pessoas brancas” dos EUA. Por isso, ele continuará existindo independentemente de qualquer mudança nas condições políticas ou econômicas.
A referência de Hannah-Jones ao DNA faz parte de uma tendência crescente segundo a qual os antagonismos raciais derivam de processos biológicos inatos. O político democrata Stacey Abrams, em um artigo publicado recentemente na revista Foreign Affairs, disse que brancos e afro-estadunidenses são separados por uma “diferença intrínseca”.
Essa afirmação irracional e cientificamente absurda serve para legitimar a visão reacionária – completamente compatível com a perspectiva política do fascismo – de que brancos e negros são espécies hostis e incompatíveis.
Em outro artigo, publicado na última edição da Foreign Affairs, o neurologista Robert Sapolsky argumenta que o antagonismo entre grupos humanos tem origem na biologia. Extrapolando os violentos conflitos territoriais entre chimpanzés, com quem humanos “compartilham mais de 98% do seu DNA”, Sapolsky afirma que entender “a dinâmica de grupo humana, incluindo o ressurgimento do nacionalismo – a forma potencialmente mais destrutiva de preconceito de grupo – exige entender as bases biológicas e cognitivas que a molda”.
A dissolução simplista de Sapolsky da história na biologia relembra não apenas a invocação reacionária do “Darwinismo Social” para legitimar a conquista imperialista do fim do século XIX e início do século XX, mas também os esforços de geneticistas alemães em oferecer uma justificativa pseudocientífica para o antissemitismo e o racismo nazista.
Ideias perigosas e reacionárias estão circulando nos meios acadêmicos e políticos burgueses. Sem dúvida, os autores dos artigos do Projeto 1619 negariam que estão prevendo uma guerra racial, muito menos que estão justificando o fascismo. Mas ideias têm uma lógica; e autores são responsáveis pelas conclusões e consequências políticas de seus falsos e equivocados argumentos.
A escravidão estadunidense é um assunto colossal com ampla e duradoura importância histórica e política. Os acontecimentos de 1619 fazem parte dessa história. Mas o que aconteceu em Porto Comfort é um episódio da história global da escravidão, que remonta à Antiguidade, e das origens e desenvolvimento do sistema capitalista mundial. Existe uma vasta literatura que lida com a ampla prática da escravidão fora do continente americano. Como explicou o professor G. Ogo Nwojeki, do Departamento de Estudos Afro-Estadunidenses da Universidade da Califórnia, em Berkeley, a escravidão era praticada por sociedades africanas. Ela existia na África Ocidental “muito antes do século XV, quando os europeus chegaram pelo Oceano Atlântico”. [1]
Segundo o historiador Rudolph T. Ware III, da Universidade de Michigan, “Entre o início do século XV e o fim do XVIII, milhões viviam e morriam como escravos nas sociedades africanas muçulmanas”. [2] Entre os trabalhos acadêmicos contemporâneos mais importantes sobre o assunto está Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa (Transformações na Escravidão: Uma História da Escravidão na África), que foi originalmente publicado em 1983 pelo historiador canadense Paul E. Lovejoy. Ele explicou:
A escravidão tem sido um fenômeno importante em toda a história. Ela foi encontrada em muitos lugares, desde a Antiguidade clássica até tempos muito recentes. A África está intimamente conectada com essa história, tanto como uma fonte importante de escravos para civilizações antigas, o mundo islâmico, a Índia e a América, como também uma das principais áreas em que a escravidão era comum. De fato, na África, a escravidão durou até o século XX – mais tempo do que no continente americano. Tal antiguidade e persistência exige uma explicação, tanto para entender o desenvolvimento histórico da escravidão na África quanto para avaliar a importância relativa do tráfico de escravos para esse desenvolvimento. Em termos gerais, a escravidão se expandiu em pelo menos três etapas – 1350 até 1600, 1600 até 1800 e 1800 até 1900 – período em que a escravidão havia se tornado uma característica fundamental da economia política africana. [3]
O professor Lovejoy enfatizou no prefácio da terceira edição de seu agora clássico estudo que um dos objetivos de realizar essa pesquisa “foi confrontar a realidade de que havia escravidão na história da África, em um tempo em que alguns visionários românticos e nacionalistas esperançosos queriam negar os claros fatos”. [4]
Em relação ao Novo Mundo, o fenômeno da escravidão na história moderna não pode ser entendido separado de seu papel no desenvolvimento econômico do capitalismo nos séculos XVI e XVII. Como Karl Marx explicou em “Gênese do capitalista industrial”, do capítulo 24 do Livro I de O Capital:
A descoberta de ouro e prata na América, o extermínio, a escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais e a transformação da África numa reserva para a caça comercial de peles-negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista. Esses processos idílicos constituem momentos fundamentais da acumulação primitiva. A eles se segue imediatamente a guerra comercial entre as nações europeias, tendo o globo terrestre como palco. Ela é inaugurada pelo levante dos Países Baixos contra a dominação espanhola, assume proporções gigantescas na guerra antijacobina inglesa e prossegue ainda hoje nas guerras do ópio contra a China etc.
A análise de Marx inspirou a percepção crítica do brilhante historiador da Índia Ocidental, Eric Williams, que escreveu em seu estudo pioneiro, Capitalism and Slavery (Capitalismo e Escravidão), publicado em 1944:
A escravidão no Caribe tem sido de maneira muito limitada identificada com os negros. Uma distorção racial deu espaço ao que é basicamente um fenômeno econômico. A escravidão não surgiu do racismo: pelo contrário, o racismo foi uma consequência da escravidão. O trabalho forçado no Novo Mundo foi marrom, branco, negro e amarelo; católico, protestante e pagão.
A formação e o desenvolvimento dos Estados Unidos não podem ser entendidos separados dos processos econômicos e políticos internacionais que resultaram no capitalismo e no Novo Mundo. A escravidão foi uma instituição econômica internacional que se estendeu do centro da África aos estaleiros da Inglaterra, aos bancos de Amsterdã e às plantações da Carolina do Sul, Brasil e Caribe. Todas as potências coloniais estavam envolvidas, desde os dinamarqueses que operavam os postos de comércio de escravos na África Ocidental até os portugueses que importavam milhões de escravos para o Brasil. Estimam-se que de 15 a 20 milhões de africanos foram enviados à força para as Américas durante todo o período do tráfico de escravos transatlântico. Entre eles, 400 mil acabaram nas 13 colônias britânicas/Estados Unidos.
A escravidão foi o legado inevitável e politicamente trágico da fundação global dos Estados Unidos. Não é difícil reconhecer a contradição entre os ideais defendidos pelos líderes da Revolução Americana – que foram expressos com extraordinária força por Thomas Jefferson na Declaração de Independência – e a existência da escravidão nos recém-formados Estados Unidos.
Mas a história não é um conto moral. Os esforços para descreditar a Revolução focando-se na suposta hipocrisia de Jefferson e outros fundadores não contribuem em nada para um entendimento da história. A Revolução Americana não pode ser entendida como a soma das intenções subjetivas e limitações morais daqueles que a lideraram. A importância histórica-universal da Revolução é melhor entendida através de um exame de suas causas e consequências objetivas.
A análise oferecida por Williams refuta a tentativa enganosa do Projeto 1619 de retratar a Revolução como uma tentativa cínica de sustentar o sistema escravista. Além do massivo impacto político da Declaração de Jefferson e da posterior derrubada do domínio britânico, Williams destacou o impacto objetivo da Revolução sobre a viabilidade econômica da escravidão. Ele escreveu:
“Quando, na trajetória dos acontecimentos da humanidade, torna-se necessário para um povo dissolver as relações políticas que as ligavam a outro....” Jefferson escreveu apenas parte da verdade. Eram relações econômicas, e não políticas, que estavam sendo dissolvidas. Uma nova era havia começado. O ano de 1776 foi marcado pela Declaração de Independência e a publicação de A Riqueza das Nações. Longe de acentuar o valor das ilhas açucareiras [no Caribe], a independência dos EUA marcou o início do seu ininterrupto declínio, e era comum dizer na época que o ministro britânico havia perdido não apenas treze colônias, mas também oito ilhas.
Não foi uma coincidência que, quatro anos depois do fim vitorioso da guerra revolucionária em 1783, o abolicionista inglês, William Wilberforce, realizou um famoso chamado pelo fim do comércio de escravos no Reino Unido.
Examinando o surgimento da oposição britânica ao comércio de escravos, Williams fez uma constatação fundamental sobre o estudo da história que serve como uma condenação ao método subjetivo e anti-histórico empregado pelo Projeto 1619. Ele escreveu:
As forças decisivas no período da história que temos discutido são as forças econômicas em desenvolvimento. Essas mudanças econômicas são graduais, imperceptíveis, mas elas têm um efeito cumulativo irresistível. Os homens, buscando seus interesses, raramente estão cientes dos resultados últimos de sua atividade. O capitalismo comercial do século XVIII desenvolveu a riqueza da Europa através da escravidão e do monopólio. Mas, com isso, ajudou a criar o capitalismo industrial do século XIX, que se virou e destruiu o capitalismo comercial, a escravidão e todas as suas estruturas. Sem um entendimento dessas mudanças econômicas, a história do período não tem qualquer significado.
A vitória da Revolução Americana e a formação dos Estados Unidos não resolveram o problema da escravidão. As condições econômicas e políticas para a sua abolição não haviam amadurecido o suficiente. Mas o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos – o desenvolvimento simultâneo da indústria no Norte e o crescimento nocivo do sistema de plantation do algodão no Sul (como consequência da invenção da descaroçadora de algodão em 1793) – intensificou as contradições entre dois sistemas econômicos cada vez mais incompatíveis – um baseado no trabalho assalariado, o outro na escravidão.
Os Estados Unidos viveram uma crise após a outra nas sete décadas que separaram a adoção da Constituição e a eleição do presidente George Washington em 1789 da posse de Abraham Lincoln e do início da Guerra Civil em 1861. Nenhum dos repetidos compromissos que tentaram equilibrar o país entre estados escravistas e estados livres, desde o Compromisso de Missouri de 1820 até a Lei Kansas-Nebraska em 1854, conseguiram finalmente resolver o problema.
Vale lembrar que os 87 anos de história invocados por Lincoln quando ele discursou em Gettysburg em 1863 correspondem ao mesmo período de tempo que separa nossos dias atuais da eleição de Franklin Delano Roosevelt em 1932. As explosivas tendências socioeconômicas que acabariam com todo o sistema econômico da escravidão foram desenvolvidas e entraram em erupção nesse curto período de tempo.
A fundação dos Estados Unidos desencadeou uma crise que resultou na Guerra Civil, a segunda Revolução Americana, na qual centenas de milhares de brancos deram suas vidas para finalmente colocarem um fim à escravidão. Deve-se enfatizar que isso não foi um resultado acidental, muito menos inconsciente, da Guerra Civil. No final, a guerra resultou na maior expropriação da propriedade privada na história do mundo, superada apenas pela Revolução Russa em 1917, quando a classe trabalhadora, liderada pelo Partido Bolchevique, tomou o poder do Estado pela primeira e, até agora, a única vez na história mundial.
Hannah-Jones não vê Lincoln como “o Grande Emancipador”, como os escravos libertados o chamavam na década de 1860, mas como um racista entre tantos outros que considerava “os negros [como] o obstáculo à unidade nacional”. A autora simplesmente desconsidera as próprias palavras de Lincoln – por exemplo, o Discurso de Gettysburg e o magistral Segundo Discurso de Posse – bem como os livros escritos por historiadores como Eric Foner, James McPherson, Allen Guelzo, David Donald, Ronald C. White, Stephen Oates, Richard Carwardine e muitos outros que demonstram o surgimento de Lincoln como líder revolucionário totalmente comprometido com a destruição da escravidão.
Mas um retrato honesto de Lincoln contradiria as alegações de Hannah-Jones de que “os estadunidenses negros lutaram sozinhos” para “tornar os EUA uma democracia”. Assim como contradiria a única menção, em algum lugar da revista, dos 2,2 milhões de soldados da União que lutaram e os 365.000 que morreram para acabar com a escravidão.
Da mesma maneira, o caráter inter-racial do movimento abolicionista é apagado. Os nomes William Lloyd Garrison, Wendell Phillips, Elijah Lovejoy, John Brown, Thaddeus Stevens e Harriet Beecher Stowe, entre outros, não aparecem em seu ensaio. Alguns abolicionistas são citados seletivamente por suas críticas à Constituição, mas Hannah-Jones ousa omitir que, para o movimento anti-escravidão, a Declaração de Independência de Jefferson foi, nas palavras do historiador David Brion Davis, sua “pedra de toque, a sagrada escritura”.
Hannah-Jones e os outros colaboradores do Projeto 1619 – alegando que a escravidão foi o único “pecado original” dos Estados Unidos e desacreditando a Revolução Americana e a Guerra Civil como conspirações elaboradas para perpetuar o racismo branco – têm pouco a acrescentar ao resto da história dos EUA. Nada nunca mudou. A escravidão foi simplesmente substituída pela legislação segregacionista Jim Crow, que, por sua vez, deu lugar à condição permanente de racismo, o destino inevitável de ser um “estadunidense branco”. Tudo remonta ao ano de 1619 e “à raiz do racismo endêmico que ainda não conseguimos extirpar desta nação até hoje”. [5, grifo nosso]
Isto não é simplesmente uma “reformulação” da história. É um ataque e falsificação que ignora mais de meio século de estudos. Não há a menor indicação de que Hannah-Jones (ou qualquer outro ensaísta do Projeto) tenha ouvido falar, e muito menos lido, os trabalhos sobre a escravidão realizados por Williams, Davis ou Peter Kolchin; sobre a Revolução Americana, de Bernard Bailyn e Gordon Wood; sobre as concepções políticas que motivaram os soldados da União, de James McPherson; sobre a Reconstrução, de Eric Foner; sobre a legislação segregacionista Jim Crow, de C. Vann Woodward; ou sobre a Grande Migração, de James N. Gregory ou de Joe William Trotter.
O que é deixado de fora do conto moral racialista do Times é de tirar o fôlego, mesmo considerando o que foi produzido pelas pesquisas afro-estadunidenses. A invocação ao racismo branco substitui qualquer exame concreto da história econômica, política e social do país.
Não há exame do contexto histórico, principalmente o desenvolvimento da luta de classes, dentro da qual a luta da população afro-estadunidense se desenvolveu no século que se seguiu à Guerra Civil. E não há referência à transformação dos Estados Unidos em um colosso industrial e no país imperialista mais poderoso entre 1865 e 1917, ano de sua entrada na Primeira Guerra Mundial.
Enquanto o Projeto 1619 e seu abastado grupo de autores encontram na exploração do trabalho escravo um talismã para explicar toda a história, eles ignoram em ensurdecedor silêncio a exploração inerente ao trabalho assalariado.
Um leitor do Projeto 1619 não saberia que a luta contra o trabalho escravo deu lugar a uma violenta luta contra a escravidão assalariada, na qual inúmeros trabalhadores foram mortos. Não há qualquer referência à Grande Greve Ferroviária de 1877, que se espalhou como fogo pelas ferrovias de Baltimore a St. Louis e foi apenas suprimida pelo envio de tropas federais, nem ao surgimento dos Cavaleiros do Trabalho, a luta pela jornada de trabalho de oito horas e o Massacre de Haymarket, a Greve do Aço de Homestead de 1892, a greve da Pullman de 1894, a formação da central sindical AFL, a fundação do Partido Socialista, o surgimento da organização de trabalhadores IWW, o Massacre de Ludlow, a Grande Greve do Aço de 1919, as inúmeras outras lutas de trabalhadores que se seguiram à Primeira Guerra Mundial e, finalmente, o surgimento do CIO e as massivas lutas industriais da década de 1930.
Em resumo, não há luta de classes e, portanto, não há história real da população afro-estadunidense e dos eventos que transformaram uma população de escravos libertos em uma importante seção da classe trabalhadora. Substituindo a história real por uma narrativa racial mítica, o Projeto 1619 ignora o desenvolvimento social real da população afro-estadunidense nos últimos 150 anos.
Em nenhum lugar os autores discutem a Grande Migração entre 1916 e 1970, na qual milhões de negros e brancos foram arrancados do Sul rural e se reuniram para conseguir empregos em áreas urbanas dos EUA, particularmente no Norte industrializado. James P. Cannon, o fundador do trotskismo nos EUA, capturou as implicações revolucionárias desse processo, tanto para os trabalhadores afro-estadunidenses quanto para os brancos, em sua prosa única:
O capitalismo estadunidense tirou centenas de milhares de negros do Sul, e explorando sua ignorância, e sua pobreza, e seus medos e sua impotência individual, levou-os para as usinas siderúrgicas como fura-greves na greve do aço de 1919. E em apenas uma geração, por esses inocentes e ignorantes fura-greves negros terem sido maltratados, abusados e explorados, o capitalismo conseguiu transformar eles e seus filhos em um dos destacamentos mais militantes e confiáveis da grande greve vitoriosa do aço de 1946.
Esse mesmo capitalismo levou dezenas de milhares e centenas de milhares de caipiras preconceituosos do Sul, muitos deles membros e simpatizantes da Ku Klux Klan; e pensando em utilizá-los, com sua ignorância e preconceitos, para combater o sindicalismo, os sugou para as fábricas de automóveis e borracha de Detroit, Akron e outros centros industriais. Lá eles suaram, foram humilhados e dirigidos e explorados até que finalmente se transformaram em novos homens. Nessa dura escola, os sulistas importados aprenderam a trocar o símbolo da KKK pelo botom sindical do CIO e transformar a cruz em chamas dos membros da KKK em uma fogueira para aquecer os piquetes no portão de fábrica. [6]
Até 1910, quase 90% dos afro-estadunidenses viviam nos antigos estados escravistas, principalmente em condições de isolamento rural. Na década de 1970, eles eram altamente urbanizados e proletarizados. Trabalhadores negros haviam passado pelas experiências das grandes greves industriais, ao lado de brancos, em cidades como Detroit, Pittsburgh e Chicago. Não é um acidente histórico que o movimento dos direitos civis tenha surgido no Sul, em Birmingham, no Alabama, um centro da indústria siderúrgica e lugar das ações de trabalhadores comunistas, tanto negros quanto brancos.
A luta do trabalho assalariado contra o capital no chão de fábrica uniu os trabalhadores através das fronteiras raciais. E, assim, na retórica febril do político defensor das leis Jim Crow, o movimento dos direitos civis foi equiparado ao comunismo e ao medo da “mistura de raças” – ou seja, que as massas de trabalhadores, negros e brancos, pudessem se unir em torno de seus interesses comuns.
Assim como desconsidera a história da classe trabalhadora, o Projeto 1619 não consegue oferecer uma história política. Não há registro do papel desempenhado pelo Partido Democrata – uma aliança de industriais e políticos do Norte, de um lado, e a escravocracia do Sul e, depois, os políticos defensores das leis Jim Crow – em colocar conscientemente os trabalhadores brancos e negros uns contra os outros ao estimular o ódio racial.
Nos numerosos artigos que compõem o Projeto de 1619, o nome de Martin Luther King Jr. aparece apenas uma vez, além de em uma legenda de foto. A razão para isso é que a perspectiva política de King se opunha à narrativa racialista defendida pelo Times. King não condenou a Revolução Americana e a Guerra Civil. Ele não acreditava que o racismo fosse uma característica permanente da “branquitude”. Ele defendia a integração de negros e brancos e estabelecia como seu objetivo a dissolução definitiva da própria raça. Depois de ter se tornado alvo e ter sido perseguido como “comunista” pelo FBI, King foi assassinado após o lançamento da inter-racial Campanha dos Pobres e o anúncio de sua oposição à Guerra do Vietnã.
King incentivou o envolvimento de ativistas de direitos civis brancos, muitos dos quais perderam a vida no Sul, incluindo Viola Liuzzo, esposa de um sindicalista do Teamsters (sindicato dos caminhoneiros) de Detroit. Sua declaração após o assassinato dos três jovens ativistas dos direitos civis em 1964, Michael Schwerner, James Chaney e Andrew Goodman (dois dos quais eram brancos) foi uma condenação apaixonada ao racismo e à segregação. King claramente não se encaixa na narrativa de Hannah-Jones.
Mas, em sua omissão mais significativa e reveladora, o Projeto 1619 não diz nada sobre o evento que teve o maior impacto sobre a condição social dos afro-estadunidenses – a Revolução Russa de 1917. Ela não apenas despertou e inspirou amplas seções da população afro-estadunidense – incluindo inúmeros intelectuais, escritores e artistas negros, entre eles W.E.B. Du Bois, Claude McKay, Langston Hughes, Ralph Ellison, Richard Wright, Paul Robeson e Lorraine Hansberry – como também minou os fundamentos políticos do apartheid racial estadunidense.
Dada a narrativa nacionalista negra do Projeto 1619, pode parecer surpreendente que em nenhum lugar da edição os nomes de Malcolm X ou dos Panteras Negras apareçam. Ao contrário dos nacionalistas negros da década de 1960, Hannah-Jones não condena o imperialismo estadunidense. Ela se orgulha de que “nós [i.e., afro-estadunidenses] somos o grupo racial com maior probabilidade de servir nas forças armadas dos Estados Unidos” e celebra o fato de que “nós” lutamos “em todas as guerras que este país travou”. Hannah-Jones não faz essa observação de uma maneira crítica. Ela não condena a criação de um exército “voluntário” que recruta jovens de minorias atingidas pela pobreza. Não parece também que Hannah-Jones se oponha à “Guerra ao Terror” e às intervenções brutais no Iraque, Líbia, Iêmen, Somália e Síria – todas apoiadas pelo Times – que mataram e deixaram desabrigadas mais de 20 milhões de pessoas. Nesse ponto, Hannah-Jones é notavelmente “daltônica”. Ela não tem conhecimento ou simplesmente não se importa com as milhões de “pessoas de cor” massacradas e refugiadas pela máquina de guerra estadunidense no Oriente Médio, Ásia Central e África.
A tóxica política de identidade por trás dessa indiferença não serve aos interesses da classe trabalhadora nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, que precisa, para sua própria sobrevivência, se unir através das fronteiras raciais e nacionais. Porém, ela serve aos interesses de classe de seções privilegiadas da classe média alta dos EUA.
Em uma passagem reveladora no final de seu ensaio, Hannah-Jones declara que, desde a década de 1960, “os negros estadunidenses realizaram um progresso impressionante, não apenas para nós mesmos, mas também para todos os estadunidenses”. Ela está falando aqui não em nome de sua “raça”, mas por uma pequena camada da elite afro-estadunidense, que se beneficiou de políticas de ação afirmativa e atingiu a maturidade política nos anos que antecederam e durante a administração de Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos.
Uma análise de 2017 revelou a extrema desigualdade de riqueza em grupos raciais. Entre aqueles que se identificam como afro-estadunidenses, os 10% mais ricos controlavam 75% de toda a riqueza; durante o mandato de Obama, o 1% mais rico aumentou sua porção de riqueza de 19,4% para 40,5% entre todos os afro-estadunidenses. Enquanto isso, estima-se que a metade inferior das famílias afro-estadunidenses possua riqueza zero ou negativa.
Embora uma camada muito pequena de milionários e bilionários negros tenha sido deliberadamente cultivada em resposta à agitação em massa das décadas de 1960 e 1970, as condições para os afro-estadunidenses da classe trabalhadora são piores do que eram há 40 anos. Foi esse o período da desindustrialização dos EUA, que assistiu ao fechamento sistemático de fábricas das indústrias automotiva, siderúrgica e de outros setores econômicos, devastando cidades da classe trabalhadora, como Detroit, Milwaukee e Youngstown, em Ohio.
As principais conquistas sociais dos trabalhadores, que aconteceram nas amargas lutas do século XX, foram revertidas para que uma imensa quantidade de riqueza pudesse ser transferida dos 90% mais pobres da população para os mais ricos. Pobreza, expectativa de vida em declínio, mortes por desespero e outras formas de miséria social estão reunindo trabalhadores de todas as origens raciais e nacionais.
Não é por acaso que a promoção dessa narrativa racial da história dos EUA pelo Times, o porta-voz do Partido Democrata e de camadas privilegiadas da classe média alta que ele representa, ocorre em meio ao crescimento da luta de classes nos EUA e no mundo.
No início deste ano, os trabalhadores da indústria de autopeças de Matamoros, no México, chamaram os trabalhadores estadunidenses, brancos e negros, a se juntarem a eles em greves selvagens. No Sul, trabalhadores negros, brancos e hispânicos entraram em greve juntos contra a gigante de telecomunicações AT&T. No Tennessee, vizinhos negros e brancos defenderam uma família da classe trabalhadora imigrante contra a deportação. Agora, a força de trabalho multirracial e multiétnica da indústria automotiva dos EUA se vê iniciando uma batalha contra as gigantes mundiais da indústria automotiva e os sindicatos corruptos.
Ao mesmo tempo, pesquisas de opinião demonstram crescente apoio da população ao socialismo – isto é, a unidade política consciente da classe trabalhadora através de todas as fronteiras e divisões impostas a ela. Diante disso, a elite capitalista estadunidense, tanto democrata quanto republicana, teme uma revolução social. Eles estão se unindo aos seus parceiros da classe dominante ao redor do mundo para implementar políticas sectárias, seja fundamentada em raça, religião, nacionalidade, etnia ou idioma para impedir o desenvolvimento da luta de classes.
O Projeto 1619 faz parte de um esforço deliberado para injetar a política racial no coração das eleições de 2020 e fomentar divisões entre a classe trabalhadora. Os democratas acham que será benéfico mudar o foco, por enquanto, da reacionária campanha militarista anti-Rússia para a igualmente reacionária política racial.
O editor executivo do Times, Dean Baquet, foi explícito a esse respeito, dizendo aos funcionários em uma reunião gravada em agosto que a narrativa sobre a qual o jornal estava focado mudaria “de uma história sobre se houve conluio entre a campanha de Trump e a Rússia e obstrução de justiça para uma história mais direta sobre o caráter do presidente”. Assim, os repórteres serão instruídos a “escrever mais profundamente sobre o país, raça e outras divisões”.
Baquet declarou:
A raça e a compreensão da raça devem fazer parte de como cobrimos a história dos EUA… uma razão pela qual todos assinamos o Projeto 1619 e o tornamos tão ambicioso e amplo foi ensinar nossos leitores a pensar um pouco mais dessa maneira. Raça no próximo ano – e acho que isso seja, para ser franco, o que eu espero que vocês tirem dessa discussão – será uma grande parte da história dos EUA.
Esse foco em raça é um reflexo da própria política racial de Trump, e tem uma semelhança perturbadora com a visão de mundo dos nazistas baseada em raça. O papel central de raça na política do fascismo foi explicado de forma concisa na análise de Trotsky da ideologia do fascismo alemão:
A fim de elevá-la acima da história, a nação recebe o apoio da raça. A história é vista como a emanação da raça. As qualidades da raça são interpretadas sem relação com a mudança das condições sociais. Rejeitando o “pensamento econômico” como base, o Nacional Socialismo desce a um nível mais abaixo: do materialismo econômico apela ao materialismo zoológico. [7]
Muitos estudiosos, estudantes e trabalhadores sabem que o Projeto 1619 realiza uma farsa da história. Eles precisam se posicionar e rejeitar a tentativa coordenada, liderada pelo Times, de desenterrar e reabilitar uma falsificação reacionária baseada na raça da história dos EUA e mundial.
Acima de tudo, a classe trabalhadora deve rejeitar qualquer esforço para dividi-la, que serão cada vez mais ferozes e perniciosos à medida que a luta de classes se desenvolver. A grande questão desta época é a luta pela unidade internacional da classe trabalhadora contra todas as formas de racismo, nacionalismo e as mais diferentes formas da política de identidade.
Notas
[1] The Cambridge World History of Slavery, Volume 3, AD 1420-AD1804, editado por David Eltis e Stanley L. Engerman (Cambridge: 2011), p. 81.
[2] Ibid, p. 47.
[3] Paul E. Lovejoy, Transformations in Slavery (Cambridge: 2012), p. 1.
[4] Ibid, Location 489.
[5] The New York Times Magazine, 18 de Agosto de 2019, p. 19.
[6] James P. Cannon,The Coming American Revolution. Discurso realizado na 12ª Convenção Nacional do Socialist Workers Party, 1946.
[7] Leon Trotsky, What is National Socialism? Disponível em: https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm.